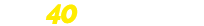Livros, prêmios, filmes e exposições mostram o sucesso dos artistas afro-americanos atuais nas artes e nas letras norte-americanas
Uma das respostas a por que as produções literárias, cinematográficas e televisivas dos artistas negros proeminentes do mundo anglo-saxão recebem ultimamente uma atenção maior poderia estar em Obama. Em sua campanha ele teve o especial cuidado de não se focar na raça – deveria ser o presidente de todos os americanos –, mas não há dúvida de que o fato de chegar à presidência mudou a visão que se tinha sobre a raça nos Estados Unidos. Ainda mais quando, sem necessidade de falar sobre isso, era evidente que o político mestiço havia decidido fazer parte do coletivo afro-americano. Seu casamento com uma mulher de quem se ouvia frequentemente dizerem que “era muito bonita apesar de ser negra-negra” teve o “efeito colateral” de normalizar a presença – e a beleza – da mulher negra até então ausente, com pontuais exceções, dos veículos de comunicação.
Deixando de lado os casos da música negra, que foi aceita – após o desprezo inicial e a posterior exploração – já há décadas (com os músicos, da mesma forma que os atletas, são aplicados parâmetros diferentes; são pessoas sem classe e grupo social que agem como ponta de lança), esta (mais ou menos) aceitação atual da cultura afro-americana por parte do mainstream se forjou muito lentamente e experimentou, de acordo com as disciplinas, tempos diferentes. A literatura se descola com a narrativa de escravos, avalizada, como confirmação de sua autenticidade, por abolicionistas brancos que a publicavam com a finalidade de lutar contra a escravidão. Esses livros, muito vendidos em sua época, desapareceram com a Guerra de Secessão (Guerra Civil dos EUA). O escritor, editor e ativista que acabaria sendo conselheiro em assuntos negros do presidente Lincoln, Frederick Douglass, foi quem obteve as maiores tiragens, mas existiram muitos autores situados entre a primeira narrativa, a do marinheiro Olaudah Equiano (1789), e a última, a do educador Booker T. Washington (1901). William Wells Brown, Harriet Jacobs e Solomon Northup, cujo relato Doze Anos de Escravidão foi levado ao cinema em 2013, estão entre os nomes mais destacados. Somente no renascimento do Harlem voltou a ressurgir, sempre aos olhos do majoritário público branco, uma literatura negra.
O renascimento se deu na época da lei seca (1920-1933), quando o Harlem ofereceu lugares, os speakeasy, em que os dissidentes se reuniam em locais discretos. Lá a boemia intelectual branca descobriu a negra. O novo filão editorial perdeu continuidade com a chegada das dificuldades econômicas causadas pelo crash de 1929. Langston Hughes é o autor mais destacado do período, mas a lista é extensa: W. E. B. Du Bois, Jean Toomer, Zora Neale Hurston, Countee Cullen, James Weldon Johnson, Nella Larsen… e termina em Richard Wright, expatriado em Paris. De modo geral não foi até as lutas pelos direitos civis que se tornaram conhecidos os nomes que marcariam a próxima época de categórica afirmação negra: por um lado, os brilhantes ensaios de James Baldwin e os inspirados discursos de Martin Luther King, e, por outro, os seguidores da corrente separatista como Malcom X, George Jackson e Eldridge Cleaver. Em 1968 foi inaugurado o primeiro departamento universitário de estudos afro-americanos – uma batalha ganha na luta pelos direitos civis –, que deu espaço a pequenas editoras negras que abasteciam os estudiosos, mas também as classes populares. Logo as grandes marcas se deram conta da importância dessa clientela. Surgiram nomes de longa carreira como Amiri Baraka, Ralph Ellison e Angela Davis. Em 1993 veio o primeiro Prêmio Nobel, com a excelsa Toni Morrison —também notável editora—, que para muitos norte-americanos funcionou como um despertador.
A indústria cinematográfica seguiu seu próprio caminho. Quando os negros foram admitidos nas salas de cinema precisaram ocupar os piores lugares, coloquialmente chamados de nigger heaven. Os poucos personagens negros que apareciam nos filmes nunca ocupavam posições que não fossem de servilismo. Em 1915 estreou o filme de Griffith O Nascimento de uma Nação, tão adiantado tecnicamente como atrasado ideologicamente; era pura apologia da Ku Klux Klan. Em razão dessa constatação, o escritor e cineasta Oscar Micheaux decidiu fundar nesse mesmo ano sua própria produtora. Foi o nascimento do cinema independente negro, que produziu, até 1951, quinhentos dos chamados race films. Finalmente a audiência afro-americana podia se ver refletida em toda sua diversidade. Quando o Black Power se fez escutar, surgiu a nova geração. Na liderança, o músico, escritor e ator Melvin Van Peebles, que com Sweet Sweetback’s Baadasssss Song criou em 1971 o tipo de anti-herói irreverente e sem complexos que difundiu por todo o país os blaxploitation films. Um gênero essencialmente urbano, hoje considerado precursor cinematográfico da primeira onda do rap. Hollywood se deu conta do enorme mercado que representava um setor que não havia levado em consideração, e se apropriou do filão. Mas o cinema negro independente não desapareceu, de onde surgiram diretores tão interessantes como Charles Burnett (é extremamente recomendável o livro Charles Burnett. Um Cineasta Incômodo, 2016), Julie Dash, Robert Townsend, Carl Franklin e Spike Lee.
Como filha mais nova da indústria cinematográfica, a televisão foi crescendo. Os primeiros afro-americanos que nela aparecerem eram mostrados com todos os clichês em voga, como na comédia Amos ‘n’ Andy, mas pouco a pouco foi incorporando atores e comediantes que lotavam os cinemas com a audiência negra; no começo dos anos setenta nomes como Redd Foxx, Bill Cosby, Jimmie Walker, Sherman Hemsley e Florence Johnston estavam à frente do elenco de várias comédias. Quando em 1977 chegou à rede de televisão ABC a série Raízes, uma nova janela se abriu: existia uma história a se desenvolver e bons atores para fazê-lo. A maioria dos que apareceram nessa série, adaptação do best-seller de Alex Haley, nunca mais deixou de trabalhar em Hollywood. Em 1980 foi criada a BET (Black Entertainment Television), uma rede decididamente voltada ao espectador negro. Um de seus fundadores foi Quincy Jones, produtor, entre outros programas, do show que lançaria como ator o jovem rapper Will Smith.
Com o passar dos anos, uma presidência negra e a expansão das classes médias e média-alta entre a comunidade afro-americana (concomitante a um aumento da pobreza dentro dela), veio a aparição do Black Lives Matter, o grupo mais amplo de protesto civil desde os Panteras Negras. Embora uma de suas metas principais seja acabar com a violência sofrida pelo coletivo de cor (termo que agrupa as diversas minorias não brancas), o #BLM pede igualdade para todos, em todos os campos. A transversalidade da sua organização, prática e ideologia lhe permite se adaptar às necessidades de cada momento e lugar, inspirando assim a resistência em múltiplas áreas. A campanha #OscarSoWhite, como resultado da concessão do Oscar de 2016 (e que rendeu seus frutos no ano seguinte), é o exemplo que vem ao caso. Chamou a atenção sobre a pouca diversidade dos ganhadores dos prêmios, resultante em grande parte da configuração da Academia, cujos integrantes continuam sendo predominantemente homens brancos e de meia-idade, que não precisam prestar contas do número de filmes que veem. Um círculo fechado que já não reflete mais a realidade.
A cada ano concorrem mais produções afro-americanas, já que cresce o número de atores que depois de trabalhar em Hollywood se tornam produtores. Na última edição do Oscar, os afro-americanos levaram os prêmios de melhor ator e atriz coadjuvantes, melhor documentário, O. J. Simpson, e melhor filme, Moonlight – uma entre as várias produções negras: Loving, Estrelas Além do Tempo, Um Limite Entre Nós (admirável adaptação de uma peça teatral do premiadíssimo August Wilson), O Nascimento de Uma Nação(que revira as premissas da obra de Grfiffith…). Todos esses filmes ultrapassaram a famosa linha da cor, e espera-se que as recompensas não sejam afinal gestos simbólicos sem continuidade.
Com campos abundantemente férteis (literatura, cinema, televisão), uma presidência nas costas, uma multidão de professores universitários, poder econômico e uma poderosa história praticamente desconhecida e que pode ser contada de um ponto de vista diferente do oficial, estranho seria que “o negro” não suscitasse interesse. Se Entre o Mundo e Eu, carta-libro que Ta-nehisi Coates escreve a seu filho, teve tanta repercussão nos EUA, é porque existe uma situação de violência racial com uma configuração diferente, mas tão considerável quanto era quando James Baldwin escreveu Carta a Meu Sobrinhoem 1962. A ampla acolhida de I Am Not Your Negro, o documentário que o haitiano Raoul Peck fez a partir de textos de Baldwin, demonstra a atualidade de suas palavras.
Se Paul Beatty ganhou o último Man Booker é porque já tinha nos deslumbrado com The White Boy Shuffle em 1996 e porque pertence a uma corrente literária, a satírica, que remonta a George Schuyler (Black No More, 1931) e que tem a representantes como Ishmael Reed (Mumbo Jumbo, 1972) e Darius James (Negrophobia, 1992). Colson Whitehead, que com Underground Railroad ganhou o Pulitzer e o National Book Award, seria um bom exemplo e o mais recente (há outros) de que, se a história interessa quando é contada sob um ponto de vista acadêmico, interessa ainda mais ao ser atualizada por seus protagonistas. Escolhido como livro do mês no programa televisivo da poderosa comunicadora Oprah Winfrey, reinterpreta a história do caminho secreto trilhado por escravos fugitivos, entre eles Frederick Douglass, William Wells Brown e Harriet Tubman, que será primeira mulher norte-americana a ter seu rosto impresso nas cédulas do dólar, uma nota de 20 que será lançada em breve. O romance evoca não só a situação da negritude durante a escravidão, mas também a atual. E já se fala na versão filmada, que seria dirigida por Barry Jenkins, o realizador de Moonlight.
Teju Cole (que teve seu Cidade Aberta traduzido ao português), Chimamanda Ngozi Adichie (Americanah) e a guineano-americana Yaa Gyasi, ganhadora do PEN com seu romance histórico O Caminho de Casa, são representantes da nova onda de escritores que não participam do passado comum afro-americano, a escravidão, já que eles ou seus pais nasceram na África. Trata-se de criadores que injetam pontos de vista novos, originais e críticos. Não só oferecem uma perspectiva diferente, como também podem, a exemplo de Gyasi, contar a negritude a partir do outro lado do oceano e ter uma visão mais panorâmica e desapegada do caminho seguido pelos africanos capturados e levados de um continente a outro.
A língua e a literatura se expandem e se renovam com cada grupo que entra no mainstream (judeus, italianos e hispânicos são outros casos). Mas o que tem a ver a cadência enlouquecida da corrente neohoodoo com a poética de Toni Morrison, as frases que soam como um murro de Chester Himes com a prosa deslizante de Terry McMillan? Cada grupo fornece seu tom e seus fraseados particulares, que provêm da “outra” língua, a do país de origem de seus pais (espanhol, italiano, alemão ou iídiche). O caso dos negros norte-americanos é diferente, porque essa outra língua é o inglês. Um inglês que foi ganhando forma à margem do ensino acadêmico, e que, portanto, se revestia de modismos muito diferentes. Nos anos setenta, chegou-se à decisão de que a maneira negra de falar constituía uma língua diferente, chamada Black English, ou Ebonics. Na Universidade de Berkeley, a escritora June Jordan abriu uma oficina onde se estabeleceram as regras, existentes, mas não registradas, desse idioma falado por quase 40 milhões de norte-americanos. Como disse Walter Mosley, criador do detetive Easy Rawlins: “Quase todos os negros são bilíngues”.
Fonte: elpais